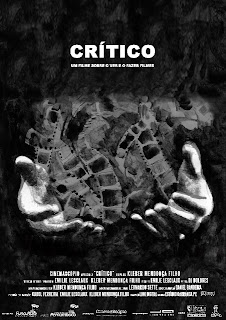O blog é, a princípio, sobre Cinema, mas senta aqui, escuta aqui, vamos conversar. Nesta tarde de quinta-feira, o jornalista esportivo RicaPerrone publicou o seguinte post em seu blog:
Como o próprio previu, o resultado foi uma onda de protestos contra o post. Posteriormente, pessoas passaram a defender o post, concordando. Twitter. Discussão vai desde twitts mais lúcidos aos mais agressivos, de ambos os lados. Acredito ser necessário dizer, contudo, que o post de RicaPerrone é muito mais burro, ignorante e desinformado do que homofóbico. Vejamos:
“O Cruzeiro ser punido no Voley porque sua torcida chamou o carinha do outro time de “viado” é a piada do século. Pra mim, é claro. Pra muitos é a “lição de moral” do ano.
Qualé a novidade em uma torcida chamar um adversário de viado? Qual foi o jogo, dentre os últimos 9 milhões aqui no Brasil, onde a torcida local não chamou o destaque rival de “viado”?”
Surpreendentemente, para quem leu o texto todo, Perrone começa até bem. A punição talvez seja um pouco demais, se pensarmos no universo esportivo (o que não descaracteriza como ofensa, principalmente se dependermos de contexto). Friso o talvez inclusive literalmente, por uma questão de dar o benefício da dúvida.
“Onde é que está o processo contra as torcidas que chamaram o Ronaldo de gordo?
Cadê a liga da justiça pra encher o saco quando xingam a mãe do juiz no futebol?
Não tem ONG “Mamães legais” ainda? Cria uma aí, pô! Se dá grana não sei, mas ibope dá.
Vamos separar as coisas e excluir o oportunismo ignorante, que é o pior que tem.”
Aqui, Perrone desanda. Muito. Não que gordos não sejam vítimas de bullying, mas queria saber se uma série de pessoas obesas é morta apenas por ser assim, por causa dessas características. Queria saber se essas pessoas têm direitos negados.
“O sujeito que nasce negro ou branco não pode ser discriminado pela cor que tem. Racismo é CRIME, é absurdo e não faz sentido.
O que não tem NADA a ver com o fato de eu virar pros meus amigos negros e chama-los, carinhosamente, de “Negão”. Pois assim o Pelé, rei do futebol, se chama, por exemplo.
Como nunca dei ataque por ser chamado de “gordinho” ou “alemão”.
São termos que, goste você ou não, perderam o tom ofensivo. É absolutamente popular, comum, inofensivo.
Assim como brincar com seu amigo e chama-lo de “viado”, ou hostilizar um rival com o termo. É normal, não quer dizer que “odiamos você por você gostar de meninos”.
Quer dizer: “Você é viado!”, sendo ou não. É uma forma de mexer com o jogo, só.”
Não existe uma onda de ataques, a ponto de matar, contra “gordinhos” e “alemães”. Essas pessoas não têm direitos negados por serem assim. É, simplesmente, uma comparação absurda, ignorante do ponto de vista sociológico, histórico, cultural e contando.
Ao mesmo tempo, no fantástico mundo de Rica, chamar alguém de “viado” é sempre tranquilo, nunca ofensivo, agressivo ou preconceituoso, aparentemente. E acompanhem comigo no replay:
Ser gay, que no meu conceito é 100% diferente de ser viado, é uma OPÇÃO SEXUAL. Viado é uma “opção pra aparecer”. Assim sendo, é opcional ser gótico, Emo, pagodeiro, roqueiro, palmeirense, flamenguista, etc. Você escolhe o que quer ser e como quer viver. E isso gera grupos que se afastam ou se aproximam de você.
Adoro samba, logo, tenho enorme facilidade em ter amigos sambistas. Não tenho, porém, grandes amigos roqueiros daqueles que andam de preto balançando a cabeça. Sou guitarrofobico?
Porra! São escolhas, e não ofendendo, não menosprezando, é tão direito seu andar de rosa quanto meu andar do outro lado da rua. Qualé?
“Opção sexual”. Fascinante: porque eu não me lembro quando escolhi ser heterossexual. Talvez Rica se lembre quando, ainda jovem, talvez criança, talvez ainda nas mamadas, parou e decidiu que queria mesmo é pegar a mulherada. Eu não lembro. Lembro quando escolhi escutar heavy metal, lembro quando decidi não ser mais metaleiro, lembro quando decidi ser corinthiano, lembro quando decidi parar de acompanhar futebol, lembro quando escolhi voltar a acompanhar apenas alguns jogos da Champions League, lembro quando decidi ser ateu, e lembro, sobretudo, quando decidi não apenas não ser preconceituoso, mas quando optei por combater certos preconceitos. Dessas coisas eu lembro. Essas foram as minhas escolhas. Eu queria poder escolher por quem me sinto atraído (porque, afinal, não é essa a questão?); facilitaria muitas coisas.
E o que fazer quanto à palavra “viado”? Pelo visto, Rica não vê mal algum. Serve até pra separar os gays (contidos, discretos, apenas “gays”) dos gays plus edição especial em 2 discos e muitos extras (os “viados”, afetados, afeminados, espalhafatosos). Então como é isso? Por analogia, tá liberado chamar de “macaco” os negros “mais escuros”, Rica? Como funciona? Eu acredito – assim, é só uma impressão, andei lendo umas coisas – que não tá liberado, porque racismo já é crime. Na Constituição, “viado” ainda tá permitido. O que isso significa?
Mas vamos, por um instante, acompanhar o raciocínio e os conceitos de Rica e encararmos “viado” como “uma opção pra aparecer” (o que não deixa, é verdade, de ser uma distinção adotada por parte da sociedade). Deixo, com vocês, algumas palavras da Mahayana (
@mahagod):
“Esse argumento de "seja gay, mas não espalhe por aí! Nada de ser afeminado! Dê o cu no seu quarto, mas nada de dar a mão na rua!" Deixa eu contar uma novidade: tem gay que GOSTA de ser afeminado, assim como tem gay que não gosta.... É o equivalente ao Bolsonaro chegar para um negro e falar "olha, você pode ser preto que vou fingir que você é gente, mas nada de querer ser macumbeiro, de batucar, de usar blackpower ou rasta... Seja negro, mas se comporte como branco. De preferência, passa um pó de arroz nessa cara". Cultura afro tá aí para ser usada, abusada e respeitada. Cultura gay também.”
Pra finalizar, Rica sabe por quantos gays já andou lado a lado em uma calçada e não sabia que eram gays? “Andar do outro lado da rua”? Ok, direito seu. Mas por que não proibi-los de andar nas calçadas, facilitando as coisas? (dica: alguém, na História, já tentou coisa parecida)
(EDIT: ah, será que ele se referia apenas aos "viados"? Ok, direito, talvez até com um pouco de propriedade, assim como eu prefiro evitar aqueles machões-pagadores-de-comedor-em-micaretas. É uma escolha ser esse tipo machão, e é escolha ser o "viado" ao qual Rica se refere. Mas, da mesma forma que tais juízos não podem se sujeitar a generalizações, tampouco podem ignorar que "machões" não correm o risco de serem agredidos até a morte por terem escolhido a persona da "macheza".)
O discurso da tolerância ("não concordo, mas tolero"), tão recorrente, é perigoso e costuma carregar um preconceito disfarçado. Por definição, tolerância presume uma relação de superioridade e inferioridade. "Você pode ser assim desde que eu tolere". É, em outras palavras, dar ou não uma permissão. E se alguém tolera e permite em um certo momento, pode simplesmente, na sua condição de "superior", deixar de tolerar e permitir. Quem deu o poder de permissão a esses tolerantes (sic)?
"Você quer ser gay ou amigão da galera? Quer ter direitos ou “mais direitos” que os outros?
Pelo que brigam, afinal?
Eu não sou gay, nunca destratei um gay, não sou homofobico, mas não quero ter um filho gay. Como não quero ter um filho gótico e nem Emo, o que não me torna um “emofobico” ou “Goticofobico” e nem gera centenas de moralistas me enchendo o saco.
Porque? Quem está tendo “tratamento diferenciado” agora?
Sejam gays. A gente aceita. Só não forcem pra ser “exemplo”.
Se querem igualdade, taí. O que querem, agora, é tratamento VIP.
Já nos obrigaram, com razão, a respeitar. Não tentem nos obrigar a gostar."
“Mais direitos”. Eis uma pessoa que não entende, não faz a menor idéia, do que homossexuais (e todas as minorias – politicamente falando – discriminadas) querem. Querem, pra começar, os
direitos que lhes são negados (são, na verdade, 73 dessa lista, não 78). Querem direitos, ora vejam, humanos.
Também não sou gay, Rica. Se você é homofóbico, eu ainda estou aqui julgando. Não pretendo ter filhos, mas, se tiver, o que quero mesmo é que seja alguém sensato, esclarecido. Penso que burrice (ignorância nem tanto, depende de mais coisas), no sentido de tolice mesmo, seja uma questão de escolha, principalmente para quem tem acesso a informação. Como jornalistas, por exemplo. Como comunicadores.
Rica tem certa razão, mas de uma maneira torpe. Gays tem “tratamento diferenciado”. Na Av. Paulista ,eles têm recebido esse tratamento quase toda semana, por exemplo. Eu não apanho por causa da minha sexualidade, tampouco por causa da minha cor branca, muito menos por minha estatura mediana. Os gays, sim. Alguns tem até o privilégio de serem mortos por causa dessa característica.
E como perguntar não faz mal: o que deve ser “exemplo”? Ninguém está obrigando ninguém a gostar de nada. Faz-se necessário, porém, um pedido de bom senso e esclarecimento, principalmente de um nome com espaço na mídia. Eu sei que um post tão descuidado e desinformado não pode ser exemplo, e, no entanto, é tomado como exemplo por muitos. É só observar a hashtag
#ricaperrone no Twitter, onde o discurso ignorante, por vezes homofóbico, encontrou (mais uma) força motora.
Preconceito existe. Preconceito latente existe. Um texto absolutamente sem fundamento, agarrado a um mais puro e inoportuno senso comum, pode fazer com que esses preconceitos apareçam, tomem força. No começo do texto, dá pra perceber que Rica quis ir para um lado, quis dizer alguma coisa. Não conseguiu. A comunicação ou não foi feita por perder seu sentido ou seu comunicador foi simplesmente irresponsável e incompetente.
RicaPerrone afirma não ser homofóbico. Muitos são ou colaboram para uma homofobia sem perceber que assim o fazem. Por ignorância, às vezes próxima a uma ingenuidade febril. O caso de Rica é mais grave, pois ignora os efeitos de um texto seu na mídia, e, na corrente, acumula e reforça pessoas que ignoram o que seu texto ignora.
Já nos obrigaram, e com razão, a estudar. Não tente nos obrigar a pensar que isso foi inútil. Burrice e ignorância também têm limites.
Fabrício Cordeiro -
@fabridoss
p.s.: as críticas contidas neste post são destinadas ao texto "Hipocrisia tem limite" escrito por RicaPerrone e somente a esse texto. Não conheço o jornalista, não sei se ele costuma ter essa falta de cuidado, muito menos se ele é uma pessoa "burra" e ignorante no geral. O texto, entretanto, é.